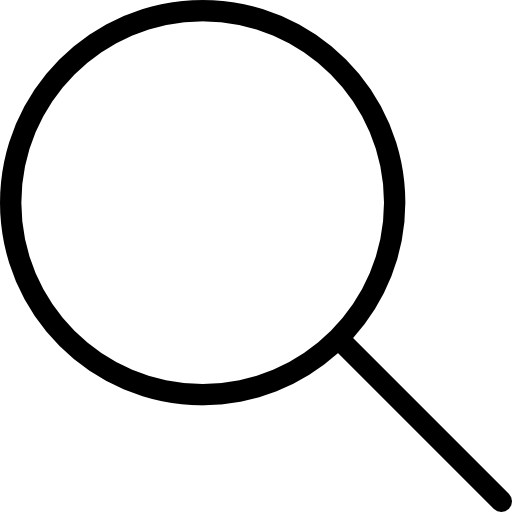ARTIGOS
Convenção de Haia sobre os aspectos civis da subtração internacional de crianças e as situações que envolvem violência doméstica
Por ELSA DE MATTOS
Publicado em 26/06/2024 às 13:28
Alterado em 26/06/2024 às 13:46
 A psicóloga Elsa de Mattos Foto: reprodução
A psicóloga Elsa de Mattos Foto: reprodução
Entre os dias 18 e 21 de junho, foi realizado, na África do Sul, o Forum on Domestic Violence and the Operation of Article 13(1)(b) of the 1980 Child Abduction (Fórum sobre a Violência Doméstica e a Operação do Artigo 13(1)(b) da Convenção de Haia)organizado pelo Comitê Gestor da Convenção de Haia. O evento teve por objetivo principal colocar em pauta a discussão sobre a relevância do tema da violência doméstica na operacionalização da Convenção de Haia. Participaram diversos órgãos e atores envolvidos na aplicação da Convenção, incluindo mães que foram vítimas de violência, pais e mães deixados para trás, profissionais da Justiça, pesquisadores e especialistas na área, bem como órgãos dos Estados Contratantes, inclusive do Brasil. O evento constituiu um momento relevante para melhor compreender como a violência doméstica se apresenta nos casos em que Convenção vem sendo aplicada.
Desde 2014, venho atuando como perita nomeada no âmbito do TRF 1ª Região para realizar perícias psicológicas nos casos em que a hipótese do "grave risco de dano psicológico", prevista no Art. 13(1)(b) da Convenção, é levantada. Assim, é na condição de psicóloga perita judicial que participei do evento e me interesso pelos seus desdobramentos.
Em âmbito global, se observa um crescimento cada vez maior dos casos de subtração internacional de crianças. A Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis da Subtração Internacional de Crianças, de 25 de outubro de 1980, constitui um tratado internacional multilateral que prevê a cooperação entre os seus 101 Estados signatários com a finalidade de proteger crianças dos efeitos negativos da transferência não autorizada de seu país de residência habitual e/ou de sua retenção indevida em outro país, praticada por um dos genitores (Mazzuoli & Mattos, 2015). Ela impõe mecanismos voltados para promover o retorno imediato da criança ao país de origem.
A Convenção estabelece um sistema de cooperação entre os países signatários, através de órgãos governamentais denominados Autoridades Centrais, na intenção de viabilizar um procedimento ágil de restituição da criança ao país de origem. Esses órgãos proporcionam assistência para localizar a criança e possibilitar sua restituição voluntária ou uma solução amigável entre os genitores (através de mediação ou negociação). Entretanto, o que ocorre na maioria dos casos que tramitam no Brasil é que os genitores não entram em acordo amigável e o processo é encaminhado à Justiça Federal brasileira, visando o cumprimento da Convenção.
É importante ressaltar que a Convenção prevê algumas situações, descritas em seus artigos 12º, 13º e 20º, que constituem exceções à obrigação dos tribunais dos Estados signatários emitirem ordens de regresso imediato das crianças aos países de origem. O Fórum realizado na semana passada, na África do Sul, teve como foco a exceção prevista no Art. 13(1)(b) da Convenção. Este artigo considera a possibilidade de haver uma recusa à devolução da criança ao país de origem em circunstâncias nas quais for verificado um grave risco de que ela sofra danos físicos ou psicológicos, ou seja colocada numa situação intolerável, em caso de retorno.
A Convenção é considerada um instrumento bem-sucedido de proteção a inúmeras crianças dos efeitos negativos da sua transferência não autorizada - e distanciamento em relação a um dos genitores - para um local diverso do seu país de residência habitual. Ao longo dos anos, entretanto, estudos realizados em diversos países como, por exemplo, nos EUA (Lindhorst & Edleson. 2012), Grécia (Douzenis et al, 2012), Itália (Tafà & Togliatti, 2013) e Austrália (Tatley, 2012), apontam que a maior a maior parte dessas transferências não autorizadas vem sendo realizada por mulheres (73% dos casos) que revelam ter sofrido violência, informando que fugiram para outro país com os filhos em busca de proteção (Edleson, Shatty & Fata, 2023; Freeman & Taylor, 2024). Tal circunstância se mostra bastante diversa daquela que originou a criação da Convenção, na qual eram os homens, i.e., os pais das crianças, que não detinham a guarda ou não conviviam frequentemente com os filhos, que realizavam com maior frequência as subtrações internacionais.
Embora a situação tenha mudado, a Convenção ainda não prevê nenhuma exceção que se aplique diretamente aos casos envolvendo violência doméstica. Alguns esforços recentes têm sido empreendidos no sentido de aprimorar a aplicação da exceção do Art. 13(1)(b) envolvendo "grave risco" para a criança no retorno. A discussão sobre tais esforços pautou a realização do Fórum, pois há uma preocupação crescente de que as crianças não estejam sendo adequadamente protegidas com a aplicação da Convenção e argumenta-se sobre a necessidade de um novo olhar dos legisladores e juristas sobre a interpretação dada ao Art. 13(1)(b) (Freeman & Taylor, 2024).
Inúmeras pesquisas no campo da psicologia e das ciências sociais apontam que a violência doméstica tem consequências graves e de longo prazo para as crianças, mesmo quando elas não são vítimas diretas das agressões praticadas. Primeiramente, é importante ressaltar que a violência doméstica, também definida como violência por parceiro íntimo, é caracterizada por diferentes comportamentos abusivos, de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial, voltados para a dominação e de controle por um parceiro ou ex-parceiro sobre o outro (Burgess et al. 2010; Burgess 2017). Pesquisas recentes também apontam que a violência por parceiro íntimo não cessa com a separação, podendo até se intensificar quando o ex-casal não coabita mais (Spearman, Hardesty & Campbell, 2023). Ressalta-se ainda que, em ambientes nos quais se verifica a prática de violência doméstica, existe um maior o risco para a ocorrência de violência contra as crianças (Guedes, Garcia-Moreno & Colombini, 2016; Katz, 2022).
Trimmings e Mamoch (2021) também apontam que as experiências de violência da mãe e da criança podem estar interligadas pois a violência perpetrada contra a mãe pode afetar indiretamente a criança que testemunhou tais atos. Durante o Fórum, as pesquisadoras Kaye, Barnett e Weiner (Expert Paper, 2024) ressaltaram também que uma criança que é exposta indiretamente à violência pode apresentar danos psicológicos graves como resultado dessa exposição, o que configura uma situação intolerável e potencialmente traumática. Portanto, é necessário um olhar mais apurado, com a realização de avaliação psicológica para verificar o quanto a criança foi afetada por essas situações e em que medida é recomendável ou não conferir o retorno dela ao país de origem (Mattos, 2022).
Durante o Fórum, tornou-se claro que existem divergências consideráveis entre as abordagens adotadas pelos tribunais dos países signatários da Convenção ao aplicarem o Artigo 13(1)(b) nos casos envolvendo violência doméstica. Inclusive, controvérsias também emergem em relação a saber se a exceção pode ser aplicada em casos nos quais não há comprovação de que a criança foi vítima direta da violência (Schutz & Weiner, 2020).
Alguns países como o Japão, a Suécia e a Austrália, estão adotando soluções internas quanto à implementação da Convenção, que levam em conta a situação específica da violência doméstica (Freeman & Taylor, 2024). Além disso, em 2020, Comitê Gestor da Convenção publicou o "Guia de Boas Práticas sobre o Artigo 13(1)(b) da Convenção de Haia de 25 de outubro de 1980 sobre os aspectos civis da subtração internacional de crianças" buscando esclarecer melhor e apontar alguns caminhos na aplicação da Convenção quando se verifica a presença de violência doméstica (HCCH, 2020).
Porém, o que se verifica atualmente é que as recomendações apresentadas pelo Guia parecem não alcançar a finalidade maior da Convenção que é proteger a criança de situações que representem risco grave ou sejam intoleráveis para ela no retorno ao país de origem. As medidas de "proteção" (denominadas "medidas de melhoria") que são recomendadas para acompanhar decisões de devolução da criança que se encontre em situações de "grave risco", podem ser vistas em si mesmas como uma violação aos direitos da criança. Essas medidas têm poucas chances de se mostrar eficazes na efetiva proteção da criança quando ela retornar ao país de origem. Isso porque ela vai voltar a ter contato e conviver diretamente com seu agressor. Desse modo, as medidas propostas parecem negar ou minimizar a existência da violência praticada no país de origem (Meier, 2021, Weiner 2023).
O pesquisador Jeffrey Edleson argumentou, no Fórum, que a aplicação das medidas de "melhoria", conforme propostas no Guia de Boas Práticas, não deve prosperar, pois demonstra uma compreensão superficial em relação à complexidade da violência doméstica e suas consequências nefastas para as vítimas, crianças e adultos (Shaknes & Edleson, 2024, Expert Paper).
Em linhas gerais, considera-se que, embora a Convenção seja eficaz em muitos casos, ela precisa ser mais bem posicionada para enfrentar os desafios e demandas que se colocam em relação às situações de violência doméstica, em especial aos contextos de violência nos quais os filhos são afetados, direta ou indiretamente. O Fórum também abordou uma preocupação crescente com o silenciamento da voz das crianças na aplicação da Convenção, visto que seu direito de participação nas tomadas de decisão sobre assuntos envolvendo seus interesses não está sendo reconhecido na aplicação da Convenção de Haia. De acordo com o Art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989 e ratificada pelo Brasil em 1990, as crianças devem ser ouvidas nas decisões tomadas no âmbito da Convenção de Haia.
Essa preocupação foi abordada por nós em capítulos de livros tratando o assunto, publicados em 2022 (Mattos, 2022) e em 2023 (Meira & Mattos, 2023). Nossa experiência atuando com perícia psicológica nesses casos demonstra que a questão da violência contra a criança e a escuta dessas crianças ainda não estão recebendo tratamento adequado na maior parte dos casos envolvendo a aplicação da Convenção de Haia. Para superação desses desafios, é necessária uma abordagem interdisciplinar que incorpore os conhecimentos Jurídicos aos da Psicologia e do Serviço Social.
Entende-se que os instrumentos previstos na Lei n. 13.431 (Brasil, 2017) precisam ser colocados em prática nos casos previstos na Convenção de Haia nos quais a violência doméstica está presente ou foi alegada pela mulher/mãe que fez a transferência não autorizada da criança para o Brasil. Especificamente nos casos envolvendo violência, recomenda-se a realização de perícias psicológicas, pois este é o meio de prova mais adequado para avaliar em profundidade - e com base em evidências cientificas - a existência ou não de riscos ao bem-estar e ao desenvolvimento saudável da criança, caso seja determinado seu retorno ao país de origem.
Considerações Finais
Os casos envolvendo a Convenção de Haia para Subtração Internacional de Crianças apresentam alto grau de complexidade, especialmente quando envolvem situações de violência doméstica praticada no país de origem. O Fórum sobre a Violência Doméstica e a Operação do Artigo 13(1)(b) da Convenção de Haia proporcionou discussões importantes em torno dessas questões, buscando aprofundar reflexões acerca dos desafios encontrados na operacionalização da Convenção frente aos casos envolvendo violência doméstica. Porém, ainda se precisa avançar bastante para garantir a efetiva proteção das crianças nesses casos.
No Brasil, já temos alguns instrumentos específicos, previstos na nossa legislação e em regulamentações do Conselho Nacional de Justiça, que podem ser utilizados na busca de uma melhor aplicação da Convenção em casos envolvendo violência doméstica. Um deles é o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. Em 2022, O CNJ editou a Recomendação N.º 128 de 15/02/2022 que adota o Protocolo como um parâmetro a ser perseguido em todas as esferas do Poder Judiciário brasileiro. Ele é reconhecido como instrumento a ser adotado no tratamento adequado das desigualdades estruturais de gênero que atravessam a sociedade como um todo. Esse protocolo precisa ser incorporado nas tomadas de decisões pelos órgãos da Justiça Federal, de forma a propiciar a identificação e abordagem dos casos de violência doméstica na aplicação da Convenção de Haia em nosso país. A formação específica relacionada com violência doméstica é fundamental para os magistrados que tomam essas decisões.
Além disso, no Brasil, também é preciso considerar instrumentos que viabilizem a participação das crianças nas tomadas de decisões envolvendo a Convenção de Haia, conforme prevê o Art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Nesse sentido, talvez seja necessário elaborar um Protocolo de Escuta de Crianças especificamente voltado para esses casos, ou adaptar os que se encontram disponíveis no nosso país. Um Protocolo de Escuta de Crianças especificamente voltado para esses casos pode facilitar a identificação dos riscos aos quais a criança já esteve exposta e que pode continuar sendo exposta, caso seja determinado seu eventual retorno ao país de origem.
O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF) é o instrumento de escuta da criança atualmente recomendado pelo CNJ para ser utilizado em situações nas quais ocorre a suspeita de que ela foi vítima ou testemunha de violência. O Protocolo foi lançado em 2020 por meio de uma iniciativa conjunta da Childhood Brasil, do CNJ, do UNICEF e do National Children's Advocacy Center. Ele consiste num método de tomada de depoimento especial, implantado pela lei 13.431/17. O PBEF, entretanto, foi elaborado para ser aplicado em situações que envolvem a violência sexual e violência física contra a criança. Como visto anteriormente, nos casos envolvendo a Convenção de Haia, seria necessário criar um Protocolo mais abrangente e diferenciado, que possibilitasse levantar informações sobre as percepções e sentimentos da criança em relação a uma gama mais ampla de situações que estão presentes nesses casos.
Ressalta-se que a aplicação de quaisquer instrumentos precisa ser realizada por profissionais com formação específica. Considerando as características dos processos que os Juízes Federais estão acostumados a julgar no Brasil e também levando em conta a atual necessidade de mudança de abordagem na aplicação da Convenção, essa formação precisaria incorporar um espectro amplo de conhecimentos referentes à violência doméstica, violência contra a criança, bem como desenvolvimento infantil. Tudo isso é relevante para que promover a proteção integral de crianças e adolescentes e para que tomar decisões que realmente estejam voltadas para o melhor interesse da criança, considerando seu bem-estar e seu desenvolvimento saudável.
______________
BRASIL (2017). Lei 13.431/2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm.Acesso em 22/06/2024.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. 18 out. 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf. Acesso em: 17/06/2024.
Douzenis, A., Kontoangelos, K., Thomadaki, O., Papadimitriou, G. N., & Lykouras, L. (2012). Abduction of children by their parents: A psychopathological approach to the problem in mixed-ethnicity marriages.British Journal of Medicine and Medical Research,2(3), 405-412.
Edleson, J., Shetty, S., & Fata, M. (2023). Fleeing for safety: Helping battered mothers and their children using Article 13 (1)(b). InResearch Handbook on International Child Abduction(pp. 96-114). Edward Elgar Publishing.
Ferraz, D. B, & Costa, M. M. (2023). O Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero como resposta institucional à pretensa universalização do feminino, amparada nos esforços internacionais de eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.Revista de Direito Internacional,20(1).
Freeman, M., & Taylor, N. (2020). Domestic violence and child participation: contemporary challenges for the 1980 Hague Child Abduction Convention.Journal of social welfare and family law,42(2), 154-175.
Freeman, M., & Taylor, N. (2024). Where international child abduction occurs against a background of violence and/or abuse. Research Report. International Center for Family Law, Policy and Practice, April 2024. Available at: https://www.icflpp.com/
Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children.Global health action,9(1), 31516.
HCCH. 2020.Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Part VI, Article 13(1)(b). The Hague: HCCH Permanent Bureau.
Katz, E. (2022).Coercive control in children's and mothers' lives. Oxford University Press.
Lindhorst, T. & Edleson, J. (2012).Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended Consequences of the Hague Child Abduction Convention. Boston: Northeastern University Press.
Mattos, E. (2022). A escuta de crianças nas perícias psicológicas de processos envolvendo a Convenção de Haia sobre os aspectos civis da abdução internacional de crianças: relato de experiência. Em:
Mazzuoli, V. O., & Mattos, E. (2015). Sequestro internacional de criança fundado em violência doméstica perpetrada no país de residência: a importância da perícia psicológica como garantia do melhor interesse da criança.Revista da Defensoria Pública da União, (08).
Meier, J. S. (2021). Denial of family violence in court: An empirical analysis and path forward for family law.Geo. LJ,110-835.
Meira, R. S. & Mattos, E. (2024). Entre vozes e silêncios: a (não) participação das crianças nos processos de subtração internacional envolvendo a aplicação da Convenção de Haia de 1980 no Brasil. Em: Diálogos Hermenêuticos entre o Direito Internacional Privado e o Direito Internacional Público Vol. 2, 1ª Ed. São Paulo: Tirant Lo Blanch.
Shaknes, V. & Edleson, J. L. (2024). Protective Measures and their inability to protect against domestic violence. Hague Mothers: A FiLiA Legacy Project. Schuz, R. (2023). Child participation and the child objection exception. InResearch Handbook on International Child Abduction(pp. 115-130). Edward Elgar Publishing.
Spearman, K. J., Hardesty, J. L., & Campbell, J. (2023). Post-separation abuse: A concept analysis.Journal of advanced nursing,79(4), 1225-1246.
Tafà, M., & Malagoli, T. M. (2013). Quando l'abuso psicologico è in agguato: la sottrazione internazionale del minore. Proposte operative.Maltrattamento e abuso all'infanzia,15(Fascicolo 1), 35-64.
Taylor, N., & Freeman, M. (2023). International child abduction. InResearch Handbook on Family Justice Systems(pp. 64-83). Edward Elgar Publishing
Trimmings, K., & Momoh, O. (2021). Intersection between domestic violence and international parental child abduction: Protection of abducting mothers in return proceedings.International journal of law, policy and the family,35(1), ebab001.
Weiner, M. H. (2023). Answering Meier: family violence and the importance of primary prevention.Va. J. Soc. Pol'y & L.,30-99.
Weiner, M. H., & Schuz, R. (2020). A mistake waiting to happen: the failure to correct the Guide to Good Practice on Article 13 (1)(b).Available at SSRN 4573485.
Elsa de Mattos. Psicóloga Clínica e Jurídica, Mestre e Doutora em Psicologia com pós doutorado pela UFBA. Perita ad hoc no TRF 1a Região/Seção Bahia e assistente técnica em processos de família no TJ/BA, TJ/DF, TJ/SP, TJ/PR e TJ/GO. Mediadora judicial e extrajudicial. Membro da Association for Family and Conciliation Courts e Presidente da Comissão de Práticas Colaborativas do IBDFam DF.
Artigo originalmente publicado no portal MIGALHAS.