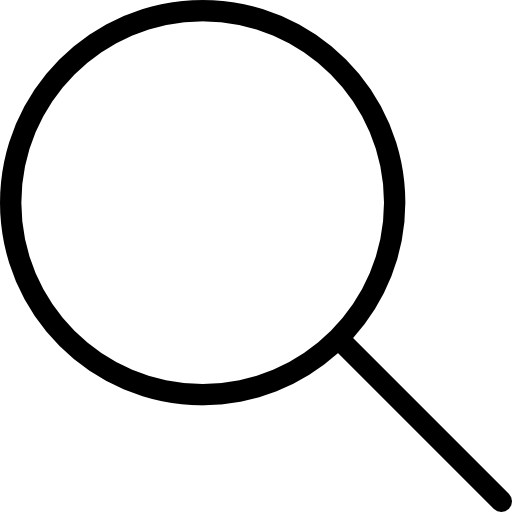CADERNOB
Olívio Petit sem exageros
Por CAL GOMES
redacao@jb.com.br
Publicado em 18/01/2025 às 07:46
Alterado em 18/01/2025 às 07:52
 Olívio Petit recriando cenas em 8mm para o documentário Dunas do Barato. 2013 Foto: Divulgação
Olívio Petit recriando cenas em 8mm para o documentário Dunas do Barato. 2013 Foto: Divulgação
.
Carioquíssimo da Tijuca, tricolor de coração, 68 anos, formado em publicidade e relações públicas pela UFRJ na metade da década de 1970, Olivio carrega o apelido Petit como sobrenome desde a infância e o manteve a pedido e sugestão do amigo cineasta Silvio Tendler quando começou a sua longa carreira como produtor, jornalista e diretor.
Sua jornada profissional, que se iniciou como fotógrafo no jornal de bairro “O Tijucão” assim que se formou, prosseguiu como assistente de direção do mesmo Silvio Tendler no clássico e essencial documentário “Jango” para, em seguida, assumir o departamento de pesquisa de imagens da TV Globo. Logo depois, já na TV Rio, sob o comando de Walter Clark, cuidou do arquivo de imagens da extinta emissora, onde também dirigiu programas de vídeo clipes.
Depois de produzir, como freelancer, uma série de material para a TV Globo, Petit trabalhou na direção de programas infantis na então recém-criada TV Manchete. Retornou ao Grupo Globo e, durante 12 anos, esteve nas produções dos primeiros canais por assinatura da Globosat e como diretor artístico da Sportv. Já na Holding Endemol/Globo, foi diretor de produção nos embrionários programas de reality show que deram início ao estrondoso sucesso Big Brother Brasil.
Nos anos de 1990, Olivio Petit iniciou uma harmônica parceria com Roberto Moura, que dura até hoje. A Massangana, do produtor, foi responsável pela série “Surf Adventures”; pelo o documentário “Brasil Surf.com” e pela série/filme “Dunas do Barato”, tendo Petit como roteirista e diretor através da OP3, produtora em sociedade com Bernardo Neubarth, seu filho com a jornalista Leilane Neubarth, com quem foi casado durante 20 anos.
Com a empresária Cláudia Zurli, o relacionamento de uma década, segundo o diretor, é de quase casamento, e faz parte de um Petit desacelerado, que caminha pelas calçadas das ruas de uma Barra da Tijuca quase sem esquinas; com amendoeiras que, levemente, lembram as paisagens que trazem a ele recordações da sua infância em um outro Rio de Janeiro, vivido na sua velha Tijuca.
Em uma conversa com o JORNAL DO BRASIL, Olivio Petit, com o seu sotaque que não deixa qualquer dúvida sobre as origens das ruas tijucanas e das areias ipanemenses, falou do documentário em produção sobre o político Carlos Lacerda, mais uma vez em parceria com Roberto Moura; sobre “Dunas do Barato”, a série que virou filme e que se transformou em um dos grandes sucessos da Netflix em 2024, sobre a sua geração, que frequentou e curtiu o lendário e mitológico Píer de Ipanema, comparando com a de hoje; do Rio, sua cidade amada, entre outros temas.
E, no fim da conversa, Olivio Petit relembrou, gargalhando, um pedido de Nelson Rodrigues a Oto Lara Rezende: "Se um dia você escrever sobre mim, exagere!"
E é claro que não foi preciso exagerar.
JORNAL DO BRASIL: Quando você imaginou, roteirizou, dirigiu e colocou no ar a série/documentário “Dunas do Barato”, passou pela sua cabeça que seria como abrir uma cápsula do tempo?
Olivio Petit: Tudo começou com uma demanda do produtor executivo Roberto Moura – Massangana Filmes – para um documentário sobre o surfe no Píer de Ipanema, nos moldes do “Dogtown & Z Boys”, do Stacy Peralta. Argumentei que os Z Boys tinham transformado o skate de uma forma que o pessoal do Píer não tinha atingido, internacionalmente, e propus uma abordagem mais ampla, falando como um reduto da contracultura carioca durante a ditadura militar. E fizemos isso porque o modo de pensar daquela rapaziada tinha sido muito importante na construção da nossa cultura pessoal.
Como você, pessoalmente, viveu aqueles anos no Rio e, mais especificamente, em Ipanema, onde surgiu o Píer e as Dunas?
Sou tijucano e estava entrando na adolescência. Ipanema me chegava pelo “Pasquim”, pelo Carlinhos de Oliveira e a Zona Sul pelas idas ao Lixo (loja de roupas usadas), Feira Hippie – onde comprei as primeiras bolsas de couro e sandálias de pneu -, pelo sorvete do Moraes e sandubas do Gordon. Fui ao Píer umas três vezes e em uma delas, momento imortal (!), fui atingido por uma bolinha de frescobol e quem veio recuperá-la foi a Rose de Primo. Pediu desculpas, sorriu e se foi. As imagens estão em câmera lenta no meu arquivo mental, em destaque.
Qual o paralelo que você faz com aquela geração e essa atual?
Vejo um movimento subterrâneo de resistência pela qualidade. O mercado cuida da quantidade e a arte da qualidade. Um depende do outro e o mercado dá mais visibilidade e, daí, vem a sensação de importância que os midiáticos têm. Hoje em dia existe no Rio uma geração de artistas de muita qualidade, que por não perderem tempo com gritos de “Faz Barulho Aê!”, parecem menos importantes. A multidão adora a catarse, né? Então, a #vamosairdochão tá ganhando. Espero que por pouco tempo.
Como carioca e documentarista, como você compara o Rio daquele início dos anos de 1970 com o de hoje?
Não há comparação. Éramos analógico-mecânicos e estamos digitais-eletrônicos. Os últimos cinquenta anos foram avassaladores. Tecnologia avançando exponencialmente. Marketing dando régua e compasso até para comprar alface. Lembro, por exemplo, que a palavra ambição estava mais próxima de ganância do que de realização. O individualismo está sendo inoculado por Wi-Fi. Os muros onde nos sentávamos à noite para conversar têm grades. As esquinas, onde as gargalhadas ecoavam madrugada adentro, emudeceram. Mas cada um vive o seu tempo e deve ter coisa boa por aí. Meu filho se diverte tanto quanto eu me diverti. Outras pressões e outras possibilidades. O importante é estar feliz. Acho.
Agora você está trabalhando no projeto de um documentário sobre o político Carlos Lacerda, personagem extremamente forte na história do Rio de Janeiro. O que te levou a essa ideia?
Mais uma vez, demanda do Roberto. Eu comecei como assistente de direção do Silvio Tendler no “Jango” e gostei da ideia de retornar ao universo da política, num momento muito parecido com aquele do João Goulart. Estamos trabalhando num filme que deverá traçar um perfil e não uma biografia. Através da história do Lacerda, pretendemos discutir a luta pelo poder, os conceitos de administração pública, a falácia da imprensa isenta e o personagem fascinante. Para o bem e para o mal. Entrevistamos Sandra Cavalcanti e Vladimir Palmeira, Cony e Leonam, Milton Temer e Mauro Magalhães. Até o psicanalista Luiz Alberto Py conversou conosco sobre poder, virtudes e defeitos humanos. Tô levando fé.
Você acha que o público brasileiro atual começou a se interessar mais por documentários?
O Brasil é um país desmemoriado. Vivemos um eterno estado de amnésia de interesses. Felizmente isso está acabando e o cinema documental está sendo muito importante nessa transformação. Porque ele fala do acontecido, do vivido. E queremos saber quem somos. Essa movimentação por respeito para todos é muito importante para quem conta a história e para quem ouve. Como ainda é muito nova a discussão, provoca muito debate sem informação comprovada, generalização e até resposta bruta de quem não quer ceder lugar para o novo. E nessa era de editais, os documentários são mais baratos. Juntando isso ao final do jornalismo como o entendíamos e ao gigantesco número de jornalistas formados que estão sendo demitidos em massa, o documentário surge como um telhado nas enchentes. Até cavalo, se for esperto, acha um para chamar de seu.
Como você define, na qualidade dos roteiros, direção e produção, os documentários atuais em comparação aos do passado lançados no Brasil?
Tem de tudo, né? Existe uma diferença entre jornalismo televisivo e documentário cinematográfico que não é pequena. E como vivemos essa época de enorme importância do “Eu”, muita gente despreza o trabalho coletivo. No “Dunas”, o trabalho do Sergio Mekler e da Renata Catharino foi muito importante, pela experiência de ficção que eles trouxeram. As pausas musicais para que o espectador pudesse refletir. O uso de imagens “sujas” em super 8 para reforçar a estética. Coisas que eu tinha jogado fora da maravilhosa pesquisa coordenada pelo Silvio Arnaut, retornaram gloriosas por conta de um vermelho necessário, ou de uma iluminação de túnel tremida ao falar da ditadura. Cenas que foram "recriadas" em super 8 e em 8mm em câmeras de corda – para recriar a restrição de tempo do take -, que Guga Millet e Rodrigo Sampaio se esmeraram em fazer parecer de época, foram também fundamentais. Teve gente que até quis saber os donos dessas imagens para comprá-las, veja você.
Quais os documentários e documentaristas de sua preferência?
Perguntinha danada essa, hein? A gente corre o risco de deixar gente querida e talentosa de fora. Gosto muito do trabalho do Pepe Cesar, da Emília Silveira, do Marcos Ribeiro e Helena Lara, só para citar pessoas que conheço e acompanho o trabalho. Tenho Silvio Tendler e Eduardo Coutinho como gurus no grupo de medalhões. Entre os gringos adoro o trabalho do Ken Burns, Jack McCoy e os documentários de Win Wenders. So... help me God!