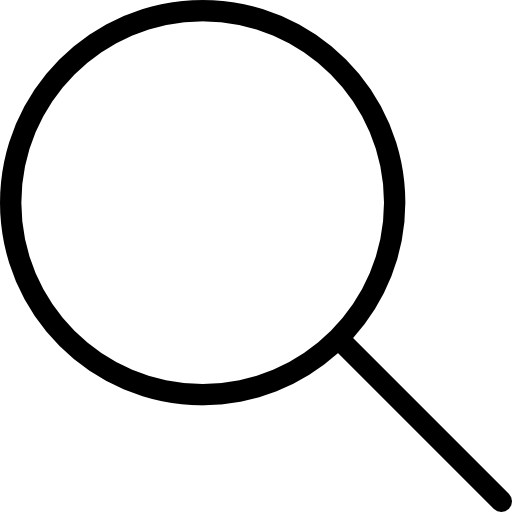Por Coisas da Política
[email protected]
COISAS DA POLÍTICA
A infâmia contra a democracia
Publicado em 10/01/2021 às 09:13
Alterado em 10/01/2021 às 09:13
 Bolsonaro quer ser Trump Reuters/Kevin Lamarque
Bolsonaro quer ser Trump Reuters/Kevin Lamarque
Donald John Trump era um empresário imobiliário de Nova Iorque, cujos interesses se estenderam por redes de imóveis com resorts, campos de golfe e cassinos. Ficou famoso como apresentador do programa de TV “O Aprendiz”, da NBC, depois de ter explorado o concurso de beleza “Miss USA”, de 1996 a 2015, e entrou na política do Partido Republicano, cujas ideias mais conservadoras do “Tea Party” lhe eram mais afins, pulando a janela e atropelando e tripudiando sobre políticos mais tradicionais, como John McCain e Mitt Romney, além do clã Bush, na disputa pela sucessão do Democrata Barack Obama, em 2016. Na campanha, surgiram várias denúncias de assédio às misses (incluindo gravações de descrições grotescas de como atacava as mulheres). Tudo foi ignorado. Ao fim e ao cabo de uma campanha sórdida, perdeu por quase 3 milhões de votos para a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, mas a venceu por 304 a 227 votos no Colégio Eleitoral usando os métodos mais rasteiros, como o de espalhar mentiras (“fake news”) pelas redes sociais, em especial o Twitter, para conquistar eleitores conservadores de estados sem tendência definida.
Seu slogan era “Make America Great Again”. O uso e abuso do Twitter passou a ser o método de comunicação direta com seus apoiadores, a nação e o mundo. Afinal, os Estados Unidos da América, mesmo cedendo espaço para o avanço da China, ainda são a nação econômica, política e militarmente mais poderosa do Planeta. Diante do papel do presidente dos EUA, passou a ter 88 milhões de seguidores (não necessariamente apoiadores, pois até adversários domésticos e no plano internacional precisavam acompanhar as ideias (?) e intenções de Donald Trump. A cada tuíte tresloucado, o mundo prendia a respiração. Trump parecia ter a reeleição garantida até a eclosão da Covid-19.
Sua atuação negacionista na crise pandêmica foi um desastre e lhe custou a reeleição. Primeiro, em janeiro e fevereiro do ano passado, quando os casos de contaminação do vírus detectado em Whuan, na China, entre o fim de novembro e dezembro de 2019, faziam as primeiras vítimas na Ásia e na Europa, desdenhou do “vírus chinês” [Trump estava da cruzada de retaliações comerciais contra a China e quis acirrar o debate], dizendo tratar-se de uma “gripezinha” e que o poderio militar americano iria exterminá-lo imediatamente. Resistiu contra o fechamento da economia em março, quando a OMS declarou a pandemia mundial e quis marcar a data da reabertura dos negócios antes da Páscoa. [o caro leitor deve recordar que os tuítes de Trump e suas posições eram replicadas aqui no Brasil por seu mais fiel seguidor: o presidente Jair Bolsonaro tratou o vírus como uma “gripezinha” e quis reabrir o comércio e o segmento de serviços até a páscoa].
O jornal “New York Times” fez, neste sábado, um levantamento dos mais relevantes tuites de Trump em seu período de governo. Foram mais de 26.000 tuites de Donald Trump como presidente, ou em média 18 por dia. Segundo o relato do “Times”, “Trump frequentemente se envolvia em xingamentos, fatos falsos em tuítes e atacava empresas ou rivais políticos. Ele frequentemente procurava desviar a atenção da mídia por meio do tuíte”. Entre as várias mentiras e barbaridades, selecionei um postado em outubro de 2020, quando ele já tinha sua derrota prevista para o Democrata Joe Biden, com a adoção do voto antecipado ou pelo correio para evitar as aglomerações da Covid-19:
“Covid, Covid, Covid é o canto unificado da Fake News Lamestream Media. Eles não vão falar sobre mais nada até 4 de novembro, quando a eleição estará (espero!) Terminada. Então, a conversa será sobre como a taxa de mortalidade é baixa, muitos quartos de hospital e muitos testes de jovens”, disse Trump. Adapte as críticas de Trump às agressões diárias do presidente Bolsonaro à imprensa e particularmente à Rede Globo, não raras vezes chamada de “globolixo” e seus apresentadores e comentaristas, que apontam suas bobagens costumeiras, muitas vezes ditas para desviar a atenção de questões mais sérias.
Os Estados Unidos entraram no mês de outubro com média de 974 mortes diárias. O mês fechou com média de 1.000 mortes. Em 4 de novembro, último dia da votação nas urnas e na postagem pelo correio, a média tinha subido ligeiramente para 1.075. Mas, com tanta circulação de eleitores (sobretudo republicanos, que invariavelmente recusavam usar máscaras, seguindo seu intimorato líder), os casos se multiplicaram na campanha, nos dias de votação e nos protestos posteriores, insuflados e comandados pelo presidente desesperado e inconformado com sua derrota, confirmada afinal na histórica sessão do Capitólio da manhã de 7 de janeiro de 2021. Contrariando todas as previsões do presidente americano, desde a segunda metade de dezembro as mortes diárias superaram as das quase 3 mil pessoas, a maioria americanos, incluindo policiais e bombeiros que morreram no terrível atentado terrorista da Al Qaeda de Osama Bin Laden, contra as duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Em 30 de setembro, os EUA tinham registrado 195,6 mil novos casos. Dia 8 de janeiro de 2021, eles quase dobraram para 371 mil.
Os Estados Unidos foram a única nação do mundo a usar – até os dias de hoje – a bomba atômica como arma de guerra. As duas bombas lançadas em agosto de 1945, sobre Hiroshima (dia 6) e Nagasaki (dia 9), três meses depois da rendição incondicional da Alemanha e da Itália, mataram imediatamente ou nas semanas e meses seguintes, devido à radiação nuclear, mais de 300 mil japoneses. Só a partir de então, o Imperador Hirohito, do Japão, se rendeu. Mas os Estados Unidos, especialmente a imprensa e principalmente Holywood – como que para fazer o “mea culpa” da terrível decisão do presidente Harry Truman – que, além de poupar vidas americanas e aliadas com o prolongamento da guerra pelos japoneses, queria afirmar o poderio americano junto aos soviéticos e chineses - nunca trataram devidamente o impacto do bombardeio sobre o Japão. São inúmeros os filmes de Hollywood sobre o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor (7 de dezembro de 1941, quando os EUA entraram oficialmente na 2ª Guerra), à Batalha de Midway, à Batalha de Okinawa. O único filme a tratar os dois lados (sobretudo a destruição humana da questão) foi o do francês Alain Resnais, “Hiroshima Mon Amour”, uma coprodução franco-japonesa de 1959. Os EUA, sobretudo os comandantes militares do Pacífico, que tiveram oitos grandes navios da frota danificados, 188 aviões destruídos e mais de 2.400 soldados americanos mortos, passaram a tratar o ataque surpresa do Japão como “a grande infâmia”.
O que dizer, portanto, do ataque de Donald John Trump ao mais importante pilar da Democracia americana, o Capitólio? Esta foi a maior das infâmias, mas não foi um ataque surpresa, é preciso ressaltar. Desde muito tempo Trump tem demonstrado desapreço pela verdade e pelos símbolos mais representativos da democracia. Suas barbaridades diárias eram toleradas e seguidas por uma legião de fanáticos. Ao ponto de que pelo menos 5 mil deles se dispuseram a marchar de vários estados até Washington (DC) – sem qualquer cordão de isolamento preventivo da Guarda Nacional para evitar as arruaças pregadas pelas redes sociais, em resposta aos tuítes do líder Trump e forçar, pela força e intimidação, o Senado e a Câmara, em sessão presidida pelo vice-presidente Mike Pence, a não homologarem a vitória de Joe Biden e Kamalla Harris.
Um verdadeiro comportamento de um ditador sanguinário de uma “República de Bananas” ou de uma das dezenas de nações nas quais, os Estados Unidos, “em nome da defesa da Justiça, da Democracia e da Liberdade”, organizaram a coligação de forças da OTAN ou de outras localidades para defender os “valores do mundo livre”. Em meio ao arrombamento das portas, à quebra de vidros das janelas e à invasão de gabinetes dos deputados e senadores, o comandante da OTAN extravasou sua “perplexidade”. Sim, banir Trump do Twitter e demais redes sociais é muito pouco. Deveria sofrer processo de impeachment, mesmo que concluído após a posse de Biden, em 20 de janeiro.
Numa última cartada antidemocrática, Trump disse que não irá à transmissão de faixas. Lembra o fujão general João Batista de Figueiredo, último presidente do regime militar, que saiu pela porta dos fundos do Palácio da Alvorada, em 15 de março de 1985, pedindo que o “esquecessem”, para não entregar a faixa presidencial ao vice-presidente José Sarney, eleito na chapa de Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985. Figueiredo nunca engoliu o fato de Sarney, que presidira a Arena e o PDS, ter abandonado o partido após a indicação do deputado Paulo Maluf sobre o ex-ministro Mário Andreazza, criando a dissidência do PFL, na companhia de ACM e outros caciques. Estou lembrando o fato (não para reavivar Figueiredo, que Deus o tenha), mas para despertar a consciência democrática dos brasileiros.
Não é improvável que Trump tente lançar, no mesmo dia da posse de Biden, a sua candidatura às eleições de 2024. Nos EUA, como se viu, tem fanáticos e doidos para seguir ditadores e pessoas desequilibradas. Mas espero que os políticos de bom senso e espírito democrático que integram o Partido Republicano barrem essa tentativa. O “putsch” de Trump contra a democracia americana em 6 de janeiro de 2021 lembra o “putsch” fracassado de Adolf Hitler, em 8 de novembro de 1923, contra a República de Weimar ao invadir uma cervejaria de Munique. Mas este ato seria o gatilho para o nazismo na Alemanha 10 anos depois. É preciso vigiar a gestação do ovo da serpente.
O estrago que Donald Trump fez à imagem americana de líder da liberdade vai exigir muita habilidade a Joe Biden para reparar. Os ditadores e déspotas de todo o mundo, devem estar comemorando até agora o passo em falso do pior representante do Tio Sam em um século e meio. Desde John Quincy Adams, que repetiu em 1869 o gesto do pai, John Adams, de não passar a faixa a Thomas Jefferson, 18 anos antes, os EUA, bem ou mal, davam exemplos de respeito ao rito democrático, com a alternância do poder decidida, soberanamente, pelos eleitores a cada quatro anos.
Wladimir Putin, Xi Jinping, o ditador da Coreia do Norte, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que pediu neste sábado o banimento dos testes das vacinas ocidentais no país (vai usar a russa Sputinik V, as chinesas e eventualmente as indianas), o ditador Erdogan, da Turquia, déspotas africanos, asiáticos e latino-americanos, como Nicolás Maduro, que despejou ironias sobre a contradição americana, estão rindo à solta. Ri-se também em Havana.
Aqui no Brasil, com mais de 201 mil mortes e com o país de 212 milhões de habitantes ainda sem saber, efetivamente, quando começa uma campanha de vacinação, porque o governo brasileiro não garantiu ainda doses suficientes para a aplicação, e depende de sobras da Índia, maior produtor de vacinas do mundo que quer aplicar duas doses em 300 milhões de indianos até o começo do 2º semestre, o presidente Jair Bolsonaro também ri. Não se sabe de quê. O vice-presidente, Hamilton Mourão, tão logo teve alta da Covid-19, tratou de se solidarizar com as famílias e amigos dos mais de 200 mil mortos pelo vírus.
Enquanto isso, Reino Unido (com quase 80 mil mortos, para uma população de 67 milhões de habitantes) assistiu à Rainha Elizabeth e ao Príncipe Phillip entrarem na agulha. O país comandado pelo primeiro-ministro Boris Johnson planeja vacinar idosos, vulneráveis e trabalhadores da linha de frente (cerca de 15 milhões de pessoas) até meados de fevereiro, para flexibilizar um novo rígido bloqueio imposto após aumento nos casos diários.