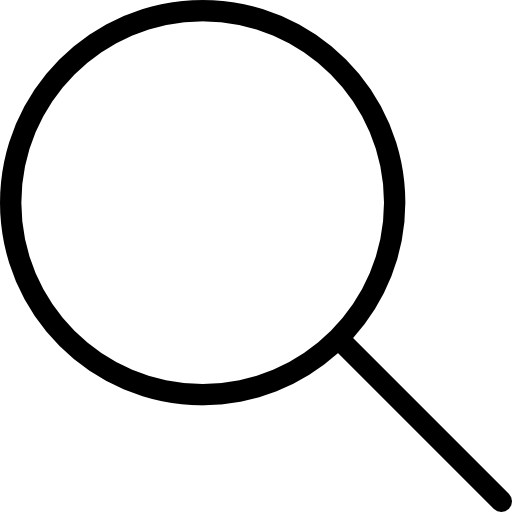Por Coisas da Política
GILBERTO MENEZES CÔRTES - [email protected]
COISAS DA POLÍTICA
Eleições: façam suas apostas; mas só nas 'bets' autorizadas
Publicado em 06/10/2024 às 06:59
Alterado em 06/10/2024 às 06:59
 As maiores forças de 2026 serão o presidente Lula (se se candidatar à reeleição e um seu eventual indicado) e o indicado pelo inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro Fotos: arquivo
As maiores forças de 2026 serão o presidente Lula (se se candidatar à reeleição e um seu eventual indicado) e o indicado pelo inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro Fotos: arquivo
Se alguém tem dúvidas de que as eleições municipais são mais paroquiais e não podem ser comparadas às eleições presidenciais, o pleito deste domingo (6) deve esclarecer de vez. Embora ainda ecoem os alaridos de 2022, que se prolongaram até o frustrado golpe de 8 de janeiro de 2023, estas eleições podem ajudar o eleitor a se posicionar nas diversas tendências do espectro político do centro democrático (à esquerda e à direita), mas o quadro eleitoral de 2026 não será definido agora. Tende a mostrar avanço dos centristas (e sempre governistas, por adesão) do PSD, MDB, PP e União Brasil, mas sem mudar o fato de que as maiores forças de 2026 serão o presidente Lula (se se candidatar à reeleição e um seu eventual indicado) e o indicado pelo inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro.
Até aqui, só duas cidades podem avaliar quem tem mais influência entre os dois contendores de 2022, embora sem candidatos diretos. Em São Paulo, o PT não concorreu e optou por apoiar Guilherme Boulos, do PSol. Já o PL de Bolsonaro, que apoiou seu ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para o governo de São Paulo na legenda do Republicanos, também não lançou candidato, e o ex-presidente deu apoio (meio envergonhado) ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo governador mesmo quando o farsante/falsário Pablo Marçal (PRTB) cresceu nas pesquisas. Agindo como um tucano do PSDB de Datena, Bolsonaro ficou em cima do muro e lançou mais apoios (explícitos pelos deputados do PL), a Marçal que a Nunes.
O resultado é que as pesquisas eleitorais não conseguem apontar a vitória dos dois candidatos que irão para o 2º turno. O tema virou febre nas casas de apostas. Melhor o apostador se certificar de que se trata de uma “bet” devidamente habilitada pelo Ministério da Fazenda para não sofrer dissabores: pode perder a aposta no seu candidato ou ainda ficar sem o dinheiro em caso de acerto, pois pode ser uma das centenas de “bets” que funcionam clandestinamente no país, lavando dinheiro em negócios escusos e promovendo elisão fiscal e evasão de divisas para os paraísos fiscais onde são registradas no exterior. Em Belo Horizonte, o cenário também é de apostas.
As barbadas do 1º turno
A rigor, pela ordem, estão garantidas a reeleição dos seguintes prefeitos: Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, que concorre pelo PL, com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nem que surja, até domingo, novo abalo sísmico na capital, com desmoronamento em minas de salgema da Braskem, a candidatura seria afetada pelo candidato do MDB, o deputado federal, Rafael Brito, apoiado pelo senador Renan Calheiros (MDB).
Em Recife, o prefeito João Campos (PSB) está virtualmente reeleito e com carreira política consolidada para voos altos como o avô Miguel Arraes e o pai, Eduardo Campos, que morreu em acidente de avião na campanha presidencial de 2014. O presidente Lula apoiou João Campos, mas a força já era do namorado da deputada Tábata Amaral (PDT-SP), candidata à prefeitura paulista. Já o inelegível apoiou no PL seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que atua pior do que como sanfoneiro nas “lives” de Bolsonaro.
A terceira barbada é a candidatura do prefeito carioca, Eduardo Paes, à reeleição pelo PSD, partido de Gilberto Kassab, que emerge como uma força centrista nesta eleição. No Rio de Janeiro, o PT não lançou candidato, e Lula aderiu a Paes. Já Bolsonaro,, que venceu Lula por 52,7% a 47,3% na capital em 2022, lançou seu ex-diretor geral da Abin, o deputado federal e ex-Polícia Federal, Alexandre Ramagem, aquele que espionou, gravou e não apagou, uma reunião comprometedora do então presidente. Esta derrota entra na cota de Bolsonaro e família, que se empenharam por Ramagem.
Salvador é outra capital onde o atual prefeito tende a garantir a reeleição. Bruno Reis, do União Brasil. PT e PL ficaram fora da disputa.
O leque de Kassab se reforça com a reeleição de Eduardo Braide (PSD), em São Luís (MA). E tanto o PT de Lula quanto o PL de Bolsonaro podem morrer abraçados à derrota de Duarte Junior (PSB). Em três capitais que são ilhas, Florianópolis (SC), São Luís (MA) e Vitória (ES), há também tranquilidade para a eleição municipal. Em Floripa, o prefeito, Topázio Neto, do PSD de Kassab, lidera com chances de fechar a disputa no 1º turno. Em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) pode ser reeleito com vantagem sobre o ex-prefeito João Coser (PT), que comandou a capital capixaba de 2005 a 2012.
Outra disputa complicada para ser decidida em sites de apostas é a de Porto Alegre. Apesar do fiasco da prefeitura nas enchentes (o sistema de comportas estava sem manutenção, alagou dezenas de bairros, matou muita gente e desalojou milhares), o atual alcaide Sebastião Melo (MDB), goiano de Piracanjuba, lidera. A dúvida é se irá ao 2º turno contra a deputada federal, Maria do Rosário (PT) ou Juliana Brizola (PDT), que conseguiu o apoio do PSol e está bem cotada para enfrentar o atual prefeito.
Gosto de cabo de guarda-chuva
Os economistas que justificaram a escalada do dólar, nos últimos meses, como decorrência dos desequilíbrios fiscais que estariam se agravando, estão com gosto de cabo de guarda-chuva depois que a agência de classificação de risco Moody’s viu um quadro fiscal que merece atenção, mas com tendência benéfica, melhorando a nota de crédito do Brasil.
O país ainda está longe do grau de investimento para atrair fundos de pensão estrangeiros em grandes projetos de infraestrutura e transição energética (precisam de selos de investimentos de duas grandes agências de risco). Mas o primeiro a fazer “mea-culpa” e reconhecer que os juros reais ficaram exageradamente altos no Brasil foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - por causa do “terrorismo fiscal”, digo eu.
Ainda há tempo de corrigir até dezembro, quando acaba seu mandato. O juro alto trava a economia, reduz o consumo e a arrecadação, piorando a relação dívida/PIB. E atrai investimentos estrangeiros especulativos contra o real, no chamado “turismo de arbitragem de juros”, do qual participam milionários brasileiros que deixam recursos em paraísos fiscais do Caribe e alhures.
'The Economist' e o erro de cálculo do Hamas
A revista “The Economist” fez esta semana, que completa um ano do atentado do Hamas a Israel, um balanço do xadrez no Oriente Médio. O paradoxo é que, apesar de milhares de mortos e destruição na Palestina, na tese do “levante dos povos árabes”, que movia o Hamas e o Hezbollah, as peças principais do xadrez não se moveram em defesa da Palestina. E a situação se complica com os recentes ataques de Israel de Benjamin Netanyahu ao Líbano:
“No ano passado, Hassan Nasrallah não estava ansioso para começar uma guerra com Israel. O líder do Hezbollah sentiu-se arrastado para ela por Yahya Sinwar, o chefe do Hamas em Gaza, que se recusou a consultar seus aliados antes que seus homens atacassem Israel em 7 de outubro. Mas Nasrallah entrou na guerra de qualquer maneira: sua própria retórica lhe deixou pouca escolha. Quase um ano depois, essa decisão lhe custaria a vida”.
“Seu assassinato em 27 de setembro foi um dos eventos mais importantes em um ano importante. O pior massacre da história de Israel levou à guerra mais mortal da história palestina, os primeiros ataques diretos do Irã a Israel, até mesmo a primeira vez em qualquer guerra que mísseis foram interceptados no espaço. Nada disso teria acontecido sem a decisão fatídica do Sr. Sinwar em outubro passado. Isso não quer dizer que a região estaria em paz — mas essa sequência particular de eventos teria sido impensável se o Hamas não tivesse matado mais de 1.100 israelenses. O Sr. Sinwar queria uma guerra cataclísmica que remodelaria o Oriente Médio, e ele conseguiu uma”.
“Mas, de muitas maneiras, não saiu como planejado. Gaza está em ruínas. O Hamas está abalado. O Hezbollah perdeu seu líder, seu comando militar e sua reputação de competência, enquanto o Irã se sente vulnerável. Não houve quase nenhum protesto sustentado e espontâneo no mundo árabe. Nenhum regime caiu, vacilou ou cortou laços com Israel. Até mesmo as consequências econômicas foram limitadas. O preço do petróleo Brent está US$ 10 mais baixo do que no dia anterior ao ataque do Hamas a Israel, alheio à guerra regional”.
“O Sr. Sinwar foi para a guerra com duas suposições: que teria o apoio de um forte e unido “eixo de resistência”, uma constelação de milícias pró-iranianas; e que a conduta de Israel inflamaria e mobilizaria a região. Essas crenças eram compartilhadas por muitas autoridades árabes, israelenses e ocidentais”.
“Tudo isso criou um paradoxo estranho: os Estados árabes foram espectadores de uma guerra árabe-israelense. Eles denunciaram a guerra de Israel em Gaza, mas não cortaram laços com o Estado judeu, nem tentaram aplicar pressão diplomática ou econômica séria sobre seus apoiadores ocidentais. Ao mesmo tempo, eles estavam desesperados para evitar qualquer confronto com o Irã, mesmo quando seus representantes lhes causaram danos reais. Até agora, neste ano, o Egito perdeu cerca de US$ 6 bilhões em receita do canal de Suez, mais da metade do que esperava ganhar, por causa dos ataques Houthi à navegação comercial no Mar Vermelho. Sua resposta foi dar de ombros. A Jordânia quase se desculpou quando abateu drones iranianos que violaram seu espaço aéreo em abril, para que ninguém pensasse que estava do lado de Israel”.
“Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, os países árabes mais influentes, se viram fazendo malabarismos com uma série de sentimentos contraditórios. Eles temem que as ações de Israel em Gaza alimentem o fundamentalismo religioso na região — mas também veem o Hamas como um grupo fundamentalista que deve ser extirpado. Eles estão felizes em ver o Irã e seus representantes sendo rebaixados, mas estão nervosos que um conflito crescente chegue às suas costas. Em público, eles pedem um cessar-fogo; em particular, eles se preocupam com um acordo que fortaleceria seus inimigos”.
“Por quase um ano, essas forças se combinaram para produzir uma espécie de êxtase. A guerra ficou amplamente confinada a Gaza e a uma estreita faixa de terra ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel. A vida era intolerável para 2 milhões de habitantes de Gaza famintos e deslocados, e miserável para centenas de milhares de israelenses e libaneses deslocados”.
“O resto da região poderia parecer enganosamente normal. Até agosto, era possível sentar na praia no Líbano e fingir que Israel e o Hezbollah não estavam bombardeando um ao outro a alguns quilômetros de distância. (milhares de expatriados libaneses retornaram e passaram as férias de verão fazendo exatamente isso.) Uma guerra que deveria remodelar o Oriente Médio, em vez disso, se transformou em um impasse localizado, e era possível imaginar que terminaria com um retorno ao ‘status quo’ ante”.
Ventos de mudança
“Os eventos do mês passado parecem ter posto fim a esse impasse. No Líbano, a decapitação do Hezbollah, uma milícia-com-partido político, oferece uma chance de afrouxar seu domínio sobre a política. Um bom lugar para começar seria o Parlamento selecionar um presidente, preenchendo um cargo que está vago há dois anos porque o Hezbollah e seus aliados insistiram em escolher um comparsa. Essa vaga tornou impossível para o Líbano nomear um novo governo ou preencher cargos-chave de segurança”.
“A escolha de um presidente só poderia acontecer com a assistência de Nabih Berri, o antigo presidente do Parlamento. Aliado e rival do Hezbollah (competem por apoio entre o mesmo eleitorado xiita) o Sr. Berri insiste que não convocará os legisladores para uma votação até que a guerra termine. Talvez isso ocorra porque mesmo um Hezbollah enfraquecido ainda pode ser uma força forte demais para outras facções libanesas desafiarem, especialmente se ele recuperar apoio popular para lutar contra a invasão terrestre israelense”.
“Na vizinha Síria, Bashar al-Assad vê uma oportunidade. Embora deva sua sobrevivência ao Hezbollah, que enviou combatentes para sustentar seu regime encharcado de sangue em 2012, ele se manteve em silêncio no mês passado enquanto Israel massacrava o grupo. Levou dois dias após o assassinato de Nasrallah para emitir uma condolência morna. Em vez disso, ele está se aproximando dos Estados do Golfo e insinuando que pode se distanciar do Irã. O ceticismo é justificado: o Sr. Assad, como seu pai, é adepto de jogar todos os lados uns contra os outros. Mas ele espera que a mera promessa de se afastar de um Irã diminuído alivie seu isolamento global”.
“Uma década atrás, os Estados do Golfo poderiam estar ansiosos para tentar conduzir o Levante em nova direção. Mas os monarcas de hoje estão menos interessados em jogar na política da região, especialmente quando isso requer o envio de bilhões de dólares em ajuda. Os sauditas em grande parte descartaram Saad Hariri, um ex-primeiro-ministro e outrora seu principal cliente no Líbano, como uma causa perdida, fraco e impopular para liderar o país”.
“Eles ficarão ainda mais relutantes em se envolver em qualquer luta, seja como parte de uma força de manutenção da paz no Líbano — uma ideia que alguns diplomatas ocidentais têm cogitado — ou como parte de uma coalizão contra o Irã. Alguns meios de comunicação ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã já sugeriram que ele pode atacar Estados do Golfo em retaliação a possíveis ataques israelenses ou americanos às instalações de petróleo do Irã. Isso pode muito bem ser uma ameaça vazia, já que quase certamente convidaria a um ataque feroz liderado pelos americanos em resposta. Mesmo assim, os sauditas e os emiradenses ficarão bastante hesitantes em chamar o blefe do Irã”.
“Os formuladores de políticas nos Estados Unidos e em Israel já estão se gabando da chance de criar um novo Oriente Médio. A região é difícil de mudar, no entanto — e raramente muda para melhor. Os Estados do Golfo temem que acabarão sendo alvos fáceis para um Irã encurralado. E eles veem pouca vantagem em assumir tais riscos. Em um discurso no mês passado, Muhammad bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, disse que o reino não reconheceria Israel até que os palestinos tivessem um Estado. Foi a primeira vez que ele fez tal declaração. O príncipe Muhammad não se importa muito com a situação dos palestinos; que ele se sentiu compelido a se distanciar de Israel é um sinal do clima de aversão ao risco em todo o Golfo”.
“Além disso, é claro que a política sectária ossificada do Líbano pode ser difícil de reformar e que o ditador cínico da Síria não mostra sinais de mudança de conduta. Outros países da região, como Egito e Jordânia, são fracos demais para exercer influência. Mesmo em um momento tão dramático, os Estados árabes podem permanecer meros espectadores da história”, conclui a revista.
Cenário da crise de 1979 dá arrepios
Um livro que li em 1979 e que tirava o sono de diretores do Banco Central, quando os riscos de escaramuças entre Irã e Iraque se intensificaram após a queda do Xá do Irã e a ascensão dos aiatolás, é “A crise de 1979”, de autoria de Paul E. Erdman. Ex-operador de câmbio do Citibank, na Suíça, o autor narra, com precisão, o pânico que a dança dos petrodólares dos países árabes ricos em petróleo causava no sistema financeiro. No Brasil, que vivia pendurado nos bancos para comprar petróleo (a descoberta da Bacia de Campos, em 1974, só foi render barris na metade dos anos 80), o enredo causava calafrios nos diretores do Banco Central aos quais indiquei a leitura.
Mas o desfecho ficcional da obra - tratado no subtítulo da edição da Nova Fronteira - “Como pode o problema criado pelo consumo de petróleo afetar tão dramaticamente os destinos da própria humanidade?” -, uma bomba de cobalto que estourou num aeroporto do Oriente Médio, cuja fórmula original (atômica) tinha sido modificada por físico judeu (contratado pelo Irã), com o temor de que fosse jogada sobre Israel, priva a humanidade do acesso ao petróleo do Oriente Médio durante três décadas.
O livro começa com o autor em uma charrete puxada a cavalo numa fazenda da Califórnia, devido à falta de óleo para gerar eletricidade, sem transição energética. No Brasil, a guerra entre Irã e Iraque (3º e 2º fornecedor à época) nos colocou ao lado do Iraque e gerou o racionamento, com postos fechados nos fins de semana, e a criação do Proálcool e de carros com motores movidos a álcool hidratado, seguindo à mistura de álcool anidro à gasolina desde 1975.
Confesso que prendo a respiração quando vejo mísseis lançados do Irã sobre Israel. Temo o dia em que a defesa do domo de ferro exploda no ar um míssil com ogiva atômica ou substância equivalente ao cobalto da ficção.