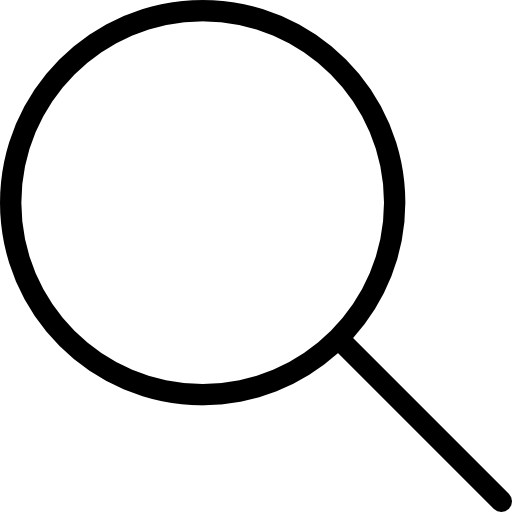ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
Pra não dizer que não falei do Vasco
Publicado em 04/03/2021 às 17:17
Alterado em 05/03/2021 às 20:33
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
Tudo começou num domingo à tarde. Fui com meu irmão Valdo à matinê do Cine Teatro Goiânia, provavelmente para ver um seriado de Flash Gordo ou um filme com o famoso cowboy Tom Mix. Voltamos apressados para casa no final da tarde. Dona Josefa tinha ficado com o rádio ligado para ouvir a final do campeonato carioca de 1950, Vasco e América, disputado em 28 de janeiro de 1951. Do jogo sairia o primeiro campeão do Maracanã, inaugurado meses antes para a Copa do Mundo. Pulei o muro da casa, atravessei o quintal correndo e abri a porta da copa. Minha mãe aumentou o volume do rádio e anunciou: Vasco 2 a 1, gols do Ademir.
“Oi zum-zum-zum-zum, Vasco 2 a 1. Ademir pegou a bola e desapareceu/ foi mais um campeonato que o Vasco venceu”. A multidão de mais de 100 mil pessoas improvisou uma paródia de um grande sucesso do carnaval de 51, inventada na hora. Pronto, começava ai, aos dez anos, em Goiânia, a conturbada aventura do menino Du com o Clube de Regatas Vasco da Gama, diante do incentivo de dona Josefa e da calada de-cepção de seu irmão, que se tornaria flamenguista.
Uma paixão que dura 70 anos, certamente a maior fidelidade de toda minha vida, que não será rompida com o novo rebaixamento para a segunda divisão, o quarto, que acaba de se consumar. Abalos houve, ruminei dias seguidos, excomunguei os feitos do Almirante Vasco da Gama cantados por Camões, coloquei luto no esquadrão que tenho na parede de meu escritório, em que Ademir está agachado entre Heleno de Freitas e Chico, com a careca do massagista Mário Américo ao lado.
Meu amigo Trajano há de entender. Se em 50 o América tinha um timaço, Osvaldinho, Natalino, Maneco, Dimas e Ranulfo, o Vasco era um seleção, o tal Expresso da Vitória. Á frente o queixada Ademir, que os jornais chamavam de “azougue”, pela rapidez fulminante com que invadia a área, No gol o negro Barbosa, na linha média pontificava Danilo, um príncipe de olhar triste, e mais Eli, Maneca e o desconcertante Ipoju-can. Jogador de técnica refinada, 1.87m de altura, manhoso, lento, mas um verdadeiro malabarista com a bola. Deixou Ademir na cara do goleiro Osni no gol da vitória.
Cresci jogando peladas nos campos de várzea e do Ateneu Dom Bosco, enfrentando os rivais Flamengo, Botafogo e Fluminense. Matei muitas aulas para correr atrás de uma bola de couro naqueles campos de terra. Não gostava de chuteiras, preferia jogar descalço, de alpargatas ou tênis. E tive no rádio um grande companheiro e aliado. Pro-gramas esportivos como no Mundo da Bola, da Rádio Nacional, com Antônio Cordeiro e Jorge Curi, transportavam-me direto para as ruas e os estádios do Rio. Meu narrador preferido era o Oduvaldo Cozzi, que inventava mais do que descrevia, uma espécie de Nelson Rodrigues da narração.
Nunca mais desgrudei do Vasco. Joguei ao lado de Fontana, Brito, Roberto Pinto, Paulinho, o belo Bellini, Orlando Peçanha, os meias Buglê e Geovanni, um baixinho canhoto artreiro. Os paraguaios Victor Gonzalez, goleiro, e Silvio Parodi, ponteiro es-querdo, entraram bem no time. Vibrei com os gols de Saulzinho, Valdir Bigode, Pinga, Vavá, Sorato e Bismarck. Tive grande prazer em tabelar com o meia Valter Marciano, um craque, e me espantei quando vi o garoto Dener fazendo suas artes pela primeira vez. Sabará esteve lá antes de mim.
Vibrei com o gol do Dinamite contra o Botafogo, com o chapéu no zagueiro den-tro da área. O passe foi de Zanata. E com o impensável gol do Cocada, numa final contra o Flamengo. Confortei o argentino Andrada quando tomou o milésimo do Pelé, no Maracanã. Ele quase pegou, chegou a tocar na bola. Ingratidão do Rei, que é vascaíno confesso.
Dos técnicos tive especial carinho por dois, o negro com ares de filósofo Gentil Cardoso, que erguia a voz pelo megafone nos treinos para advertir a rapaziada de que uem desloca tem preferência. E o aristocrata e intelectual mineiro Martin Francisco Ribeiro de Andrada, com quem sentava no vestiário depois do treino, com uma garrafa de Red 8 anos em cima da mesa, para uma conversa sobre táticas, a armação do 4-2-4. E em especial sobre argentinos e húngaros, os artistas da bola e dos concertos clássicos que ele mais admirava. Yustrich era grosseiro, berrava com os jogadores e mandava marcar ho-mem a homem. O elegante Mário Travaglini, vindo da pauliceia, sempre me arrumou um lugar no seu time, um falso ponta aberto pela esquerda.
Quem uma vez me escalou num coletivo no meio da semana em São Januário foi o repórter Dácio Malandro, setorista do JB no Vasco. Eu estava no time da penitenciária, trancafiado na Vila Militar, regimento Sampaio, cumprindo pena por subversão e o Dácio, meu companheiro de redação, escalou um novato Álvaro Caldas na lateral esquerda do time reserva. Pouca gente notou. Com a publicação da matéria, recebi congratulações e só pude agradecer quando afinal os portões foram abertos. Paguei um uísque para meu amigo Malandro no Danúbio Azul, na Lapa.
Logo que cheguei ao Rio, São Januário foi meu destino todos os domingos. Sorte que minha namorada morava na Tijuca. Mascava chiclete, soprava bolinhas verdes e detestava futebol. Não durou dois jogos. Pegava o ônibus no Largo do Machado e des-cia na Barreira do Vasco. Nunca fui assaltado. Quando o salário deu comprei um fus-quinha vermelho financiado, apelidado de “Gigante” pelo adesivo do Vasco que ostentava no vidro traseiro. Teve uma respeitável trajetória entre os grupos de esquerda no Rio nos anos 60. Participou de pichações, transportou militantes clandestinos, levou panfletos para porta de fábrica, até que um dia bateram com ele e o bravo Gigante da Colina foi arrastado, avariado e com os pneus arriados, para o quartel da Barão de Mesquita. Me fez companhia.
Há um consta que usei meus poderes da santíssima trindade para colocar uma cruz de malta nos corações de meus filhos Zino, Flavinha e Anita. Mentira, não creiam em histórias inventadas. Com o atento olhar de cumplicidade da mãe Suely, foram criados com amor e como vascaínos que deveriam ser. Ganharam as camisas e flâmulas de praxe, e levei os três no Gigante para conhecer o Maracanã nos clássicos do Vasco. Vol-távamos para casa felizes, com as bandeiras tremulando para fora do vidro do carro.
Num desses jogos, sábado à tarde, Flavinha, em tarde de dispersão, sentou-se de costas para o gramado e ficou olhando o infinito enquanto um pênalti era marcado contra o Vasco. Um gentil torcedor de chapéu preto pediu educadamente a ela para se virar e olhar o espetáculo. O que ela fez no momento em que o Carlos Germano defendia o pênalti cobrado pelo Gérson.
Já com os netos a história mudou. Vieram os genros e suas preferências de outras cores. As netas desandaram direto, duas para o vermelho e preto e a outra para o tricolor. O caçula Theo também ficou com o time do Zico, mas o primogênito Bernardo manteve a linhagem da nobreza inaugurada pelo Almirante Vasco da Gama. Não importa em que mares esteja navegando ou em que divisão esteja.
*Jornalista e escritor