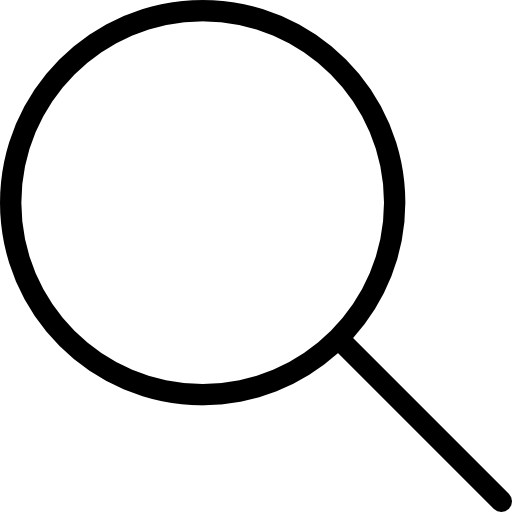O OUTRO LADO DA MOEDA
Os BCs ante o curto e o longo prazo
Publicado em 20/03/2023 às 13:36
Alterado em 20/03/2023 às 13:36
John Maynard Keynes, o genial economista inglês, tinha uma frase lapidar para definir o dilema das autoridades monetárias: “A longo prazo estaremos todos mortos”. Isso se aplica como uma luva à atuação dos Bancos Centrais na presente quadra. Em função das sanções econômicas à Rússia pela invasão da Ucrânia há mais de um ano, os preços do petróleo, combustíveis, fertilizantes e alimentos dispararam. E criaram uma inflação exógena.
Para combater a inflação (que é menos de demanda e mais de choques externos), os BCs aceleraram a alta de juros. Desequilíbrios nos mercados de ativos, parte decorrente da escalada dos juros, parte da má gestão de riscos, levaram à breca dois grandes bancos americanos, gerando crise de crédito entre as pequenas e médias instituições do país. A crise de liquidez se espalhou para a Europa, com as inconsistências contábeis do Crédit Suisse.
Apesar da crise de liquidez, (que teria obrigado o Federal Reserve, o BC dos Estados Unidos a injetar US$ 300 bilhões para oxigenar o sistema), considerada por economistas do Banco Goldman Sachs com o mesmo efeito contracionista na demanda, e de impacto mais imediato, que de uma alta de juros, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou a taxa básica do euro em 0,50 ponto percentual semana passada.
No fim de semana, diante do agravamento da crise de liquidez bancária, uma ação do Federal Reserve, coordenada com o BCE e os bancos centrais do Canadá, Japão, Banco da Inglaterra e o BC da Suíça, na tentativa de estancar a desconfiança geral no mercado financeiro, patrocinou uma rede global de liquidez e pressionou o BC da Suíça a fechar, domingo, a compra do CS pelo UBS. Os mercados ainda continuam arredios e preocupados nesta 2ª feira.
A dúvida que se impõe é se o Federal Open Market Committee (FOMC), o formulador da política monetária dos Estados Unidos, modelo do nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, (ambos se reúnem nesta 3ª e 4ª feira), com uma visão mais global da crise, vai seguir os manuais para perseguir uma quimérica meta de inflação de 2% (quando a taxa em 12 meses estava em 6% em fevereiro) ou adotará a prudência keynesiana e dará mais peso ao curto prazo e às pessoas, que são o realmente importa em economia?
Para que serve a economia?
A economia surgiu como ciência (mais ou menos exata, como reconheceu, certa vez, em entrevista ao velho JORNAL DO BRASIL, o então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, com quem brinquei, na ocasião, “Ministro, na teoria tudo é uma beleza, o que estraga são os números” e ele, generoso e antes de tudo didático, riu muito da minha provocação) para garantir a melhor distribuição das safras agrícolas entre uma e outra colheita. Para evitar uma crise repentina de escassez (e fome) os cálculos entre o consumo mensal e semanal até a próxima colheita foram se aprimorando. Com o tempo, as trocas comerciais ajudaram a compensar eventuais perdas de colheita.
O comércio deu um salto quando o escambo de mercadorias foi substituído pelo ouro, as moedas, base dos sistemas financeiros, que introduziram as cartas de crédito (tendo por garantia os depósitos). A regulagem da oferta de moeda passou a ser o ponto chave da economia moderna. As coisas ficaram mais sofisticadas (embora previsíveis) com as negociações de títulos, juros, moedas e commodities nos mercados futuros, sobre os quais os BCs exercem importante influência com a tendência das taxas de juros. E os efeitos da política monetária se materializam 12 a 18 meses adiante.
A questão, lembraria Keynes, é que neste intervalo, uma crise bancária derrubaria toda a economia. Por isso, os governos gastam bilhões (através dos Banco Centrais) para evitar que uma crise de liquidez financeira bloqueie o acesso das pessoas e empresas aos depósitos e créditos dos bancos e asfixie a economia real, afetando o consumo, a produção e o emprego. Vale dizer, o bem-estar social. Que é, em última análise, o mandato dos bancos centrais.
O que fazer agora?
A crise bancária nos EUA teve efeito importante na redução da confiança dos consumidores locais e isso poderá ser levado em consideração pelos membros do FOMC. Nem todos comungam da visão do Goldman Sachs. Muitos acreditam, inclusive no Brasil, que o Fed manterá o ritmo de elevação de 0,25 p.p. nas taxas dos “fed funds”, o que seria um recuo ante a intenção anunciada há duas semanas, de elevação para 0,50 p.p. prevista por 70% do mercado
O economista Mohamed El-Erian, presidente do Queens' College, da Universidade de Cambridge, consulton da Allianz Seguros e do fundo PIMCO, um dos gurus de Wall Street, considera que o Fed (que teria demorado a enxugar a farta liquidez na pandemia da Covid) agora “enfrenta um trilema intensificado: como reduzir simultaneamente a inflação, manter a estabilidade financeira e minimizar os danos ao crescimento e ao emprego. Com as preocupações com a estabilidade financeira aparentemente contrariando a necessidade de apertar a política monetária para reduzir a alta inflação, é uma situação que complica a tomada de decisões de política nesta semana”, disse em artigo publicado no “Financial Times” desta 2ª feira.
Ele está dividido entre um aumento de 0,25 p.p, a manutenção das taxas ou até leve queda de 0,25 p.p., e reforça a visão de coluna anterior, quando defendeu, que “a longo é fundamental abordar as vulnerabilidades estruturais do Fed, incluindo fraca responsabilidade e falta de diversidade cognitiva”. El Erian defende que o Fed precisa reformular a “nova estrutura monetária” adotada em 2020 e “considerar o caso de mudar a meta de inflação de 2% para refletir o pivô estrutural de um mundo de demanda agregada insuficiente para um de oferta insuficiente”. Espero que o alerta ganhe eco aqui no Brasil.
Focus mantém pessimismo
A pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central até 6ª feira junto a mais de uma centena de instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa e divulgada nesta 2ª feira, parece ignorar o cenário externo e o arcabouço de ajuste fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas cujo conteúdo ainda não é de todo conhecido, pois ainda depende de aprovação na área política do governo, arredia a controle rígido dos gastos.
O mercado manteve a expectativa de que a taxa Selic, hoje em 13,75% feche o ano em 12,75% e caia a 10% em dezembro de 2024. Isto porque espera que a inflação do IPCA feche em 5,95% este ano (mínima baixa ante os 5,96% da semana passada), mas as previsões pioraram nas apostas dos últimos cinco dias úteis (de 5,90% para 5,98%).
A principal causa, foi a revisão, para cima, dos preços administrados (combustíveis e energia elétrica, sobretudo), em função das reonerações tributárias federais e estaduais), mantida em 9,13% na mediana, mas que subiu de 8,90% para 9,36% nas previsões dos últimos 5 dias. Esses fatos, a política monetária só pode tentar neutralizar nos efeitos secundários. Porém, o impacto de uma pedra no lago (o reajuste) é mais imediato que a tentativa de evitar (via política monetária) o efeito da onda nas margens do lago.
A curto prazo, o cenário da Focus aponta forte queda da inflação em 12 meses, pela base de comparação bem elevada de 2022, causada pelos reajustes dos combustíveis após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O IPCA de março foi estimado em 0,75%. Como a alta foi de 1,62% em 2022, se a previsão se consumar, a taxa em 12 meses do IPCA recuaria dos atuais 5,60% para 4,69% e a baixa seguiria em abril para 4,26% (o mercado espera IPCA de 0,60% este ano, contra 1,02% em abril de 2022. E a baixa continuaria em maio, pois a taxa esperada de 0,40% é inferior à de 0,47% de 2022. E possivelmente em junho, pois a taxa de 2022 foi de 0,53%.
O problema é que a intervenção eleitoreira nos preços da energia, combustíveis e comunicação, de julho a 31 de dezembro de 2022, após gerar deflação de 1,32% de julho a setembro e derrubar a inflação em 12 meses de 11,87% em junho para 5,79% em dezembro, agora cobra seu preço e aprofunda o dilema do Banco Central diante da economia anêmica desde setembro de 2022, em função dos altíssimos juros reais (descontado o IPCA).
Juros pronográficos
Atualmente, a taxa de 13,75% contra 5,60% do IPCA implica o piso de 7,72% no juros real. Como a próxima reunião do Copom só será em 3 de maio, o juro real pode chega a absurdos 9% na ocasião. Ou a "juros pornográficos", como definiu nesta 2ª feira, o economista André Lara Resende, ex-diretor do Banco Central, em seminário sobre os rumos da política econômica promovido pelo BNDES.
Não será uma decisão fácil. Se mantém a trajetória de aumento dos juros, poderá gerar um aperto ainda maior no mercado de crédito, agravando a crise. Por outro lado, se decide não aumentar a taxa básica de juros, passará a mensagem para os investidores e para a sociedade que a estabilidade de preços não é uma prioridade do banco central, o que poderá afetar negativamente as expectativas para a inflação.
Americanas apresenta sua proposta
Como cereja do bolo, em torno do qual os membros do Copom vão debater o futuro da política monetária, teremos a definição hoje da proposta do trio de referência da Americanas sobre o aporte de capital e a última versão na renegociação, com desconto, das dívidas. Na última versão, eles chegaram a R$ 10 bilhões de aporte e propuseram recomprar DR 12 bilhões de dívidas com desconto de 60%. A alternativa é ir para o fim da fila na Recuperação Judicial. Uma solução na cadeia de credores financeiros e de fornecedores seria uma preocupação a menos para o Banco Central.
O dilema do Banco Central se resumiria a acreditar no esforço fiscal do governo ou continuar insistindo na quimera de alcançar o teto das metas de inflação de 2023 (4,75%, quando o mercado projeta 5,98%) e os 4,50% de 2024 (por ora, as previsões do mercado apontam 4,02%, mas com alta de 4,40% dos preços administrados). A economia sucumbiria à asfixia dos juros.